Pessoas Incluindo Pessoas
EP 08 – Como educar crianças anticapacitistas
A Convivência Como Ferramenta de Transformação
Mariana Rosa e Karla Garcia, autoras do livro “Como Educar Crianças Anticapacitistas”, destacam que o principal desafio para uma educação inclusiva é a desconstrução do capacitismo nos próprios adultos. A obra, que mescla vivências pessoais — ambas são mulheres com deficiência e mães — com reflexões teóricas, propõe um deslocamento do olhar: em vez de focar na “tragédia pessoal” da deficiência, é preciso identificar e eliminar as barreiras que o mundo impõe.
As autoras defendem que a curiosidade infantil, como a pergunta “por que ele é assim?”, não deve ser reprimida, mas sim acolhida e transformada em uma oportunidade de aprendizado. A resposta não deve ser um tabu, mas um convite à reflexão sobre as múltiplas formas de existir e sobre a acessibilidade do ambiente. A convivência desde cedo com a diversidade torna a deficiência algo trivial e cotidiano, não extraordinário.
O Perigo da "Pedagogia do Diagnóstico"
Um dos pontos críticos abordados foi a crescente “obsessão pelo diagnóstico” nas escolas. As convidadas alertam para o risco de reduzir um estudante a um CID (Classificação Internacional de Doenças), o que leva à adoção de protocolos padronizados e à medicalização da vida, ignorando a singularidade de cada pessoa.
Segundo elas, o antídoto para essa tendência é a construção de uma escola verdadeiramente democrática, onde cada aluno é autor de sua própria história e tem espaço para expressar suas demandas. A luta por uma educação anticapacitista está diretamente ligada à defesa de políticas públicas robustas e intersetoriais, como o SUS e o SUAS, que garantam direitos e cuidados integrais, fazendo com que o diagnóstico não seja a única porta de acesso a eles.
Rompendo com a Presunção da Incapacidade
O maior desafio, segundo as autoras, é romper com o paradigma médico e a “presunção da incapacidade” associada à deficiência. É preciso entender a deficiência como parte da condição humana, e não como uma falha ou infortúnio. A escola surge como um ambiente fértil para essa mudança, um lugar onde o potencial de cada um pode ser desenvolvido.
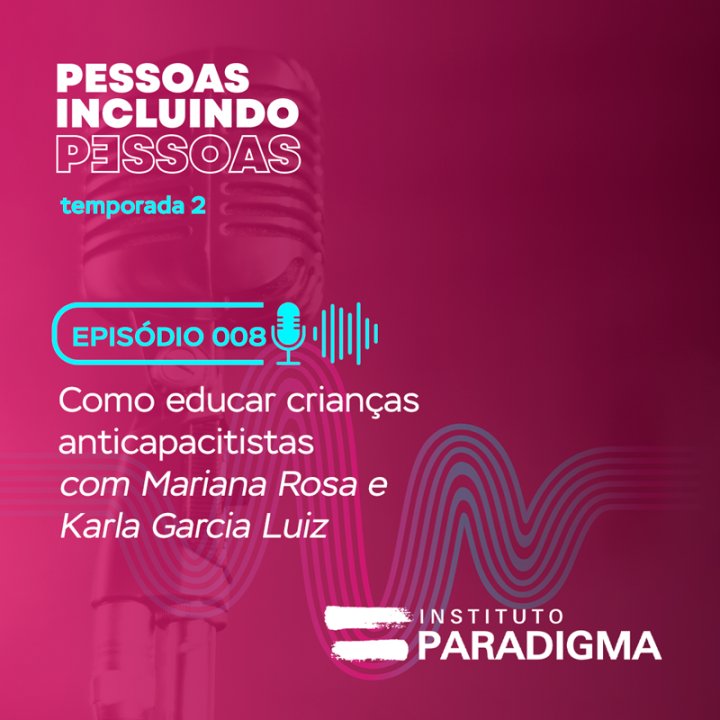
Educar crianças anticapacitistas é, em última análise, preparar pessoas para o mundo real, um mundo diverso e plural. A inclusão é um caminho sem volta, e o objetivo final é construir uma sociedade onde não seja mais preciso falar em “incluir”, pois ninguém estará de fora.
Onde encontrar o livro:
A obra “Como Educar Crianças Anticapacitistas” está disponível gratuitamente para download na internet, incluindo a Biblioteca Virtual do Instituto Paradigma, com recursos de acessibilidade. A publicação é uma parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
Ouça o EP 08 – Como educar crianças anticapacitistas
Prepare-se para uma conversa que desafia preconceitos e celebra a educação. Ouça agora, compartilhe e junte-se a nós nessa luta por uma sociedade mais inclusiva e consciente!
Acesse todos os episódios completos em Podcast Pessoas Incluindo Pessoas. Ouça também no Spotify.
Leia a transcrição da conversa
Podcast Pessoas Incluindo Pessoas - Segunda temporada - Episódio 8
Vinheta:
“Pessoas, incluindo pessoas”
Flávia Cintra
“Pessoas, incluindo pessoas”, o podcast do “Instituto Paradigma”.
Eu sou a Flávia Cintra, uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Uso óculos de armação preta no modelo aviador. Hoje eu estou vestindo uma blusa de tricô rosa, pink, e também uma calça jeans e tênis. Estou sentada na minha cadeira de rodas. Tem aqui do meu lado o Arthur Calazans, a Val Paviatti, pra abrir um episódio sobre um tema tão importante e sensível. O nosso desafio de educar crianças anticapacitistas.
Tudo bem, Arthur?
Arthur Calazans
Tudo bem, Flávia! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arthur Calazans, sou um homem branco, tenho cabelo, barba e sobrancelhas grossas, grisalhas, já foram castanhos, mas agora são grisalhos. Eu uso um óculos quadrado de armação azul, e estou vestindo uma camiseta preta, e estou de bermuda, uma bermuda cinza sentada na sala da minha casa e vou passar a bola pra Val Paviatti.
Val Paviatti
Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao oitavo episódio do nosso…
Flávia Cintra
Uh, hu!
Val Paviatti
Podcast “Pessoas incluindo pessoas” do Instituto Paradigma!
Val Paviatti
E é muito bom estar com vocês mais uma vez!
Eu sou a Val Paviatti, uma mulher de pele branca, tenho olhos e cabelos castanhos, uso óculos. Hoje estou vestida com uma camisa jeans, uma calça preta e uma malinha por cima da camisa. E é muito bom estar com vocês aqui.
E no episódio de hoje, nós estaremos falando sobre um assunto, o qual eu já disse, de extrema importância. E as nossas convidadas são autoras do livro “Como Educar Crianças Anticapacitistas”. O livro foi lançado em 2023 pela Autêntica Editora, e é um guia acessível e prático que a fez do capacitismo como uma questão urgente de educação, cultura e direitos humanos.
Escrito por duas mulheres com deficiência e ativistas. A obra mescla vivências pessoais, reflexões teóricas e orientações práticas para a família, educadores e toda a sociedade.
Sejam muito bem-vindas, Mariana Rosa e Karla Garcia!
Flávia Cintra
Muito bom estar com vocês. Vamos começar então pedindo para que vocês se autodescrevam. Quem começa, a Karla?
Karla Garcia
Olá pessoal! Eu sou a Karla Garcia, eu sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, tenho cabelos longos, lisos, na altura da cintura, estou usando um brinco de pérolas, um short marrom e um poncho marrom, porque estou aqui no sul do Brasil e aqui está muito frio. (Risos)
É um prazer estar aqui com vocês.
Mariana Rosa
Boa tarde! Aliás, bom dia, boa noite, seja lá qual o horário que cada pessoa está nos acompanhando nesse momento, é um prazer, uma alegria estar aqui hoje tão bem acompanhada da minha amiga Karla, e também da Flávia, do Arthur, da Val, do Uirá, um prazer enorme. Eu sou a Mariana, eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos cacheados, arruivados, na altura dos ombros, estou usando um óculos de armação preta, uma camiseta branca e estou sentada aqui no meu local, na parede verde ao fundo.
Mariana Rosa
Meu sinal em libras é como se fosse um cacho, que a gente faz assim, com o dedo indicador perto da bochecha, indicando justamente os meus cabelos cacheados.
Flávia
Muito bom, muito bom. E gente, vamos começar logo pelo mais importante! O tema do livro, o título do livro, “Como educar crianças anticapacitistas”. É um grande desafio para adultos que são resultado de uma educação profundamente capacitista. Então, eu fiquei pensando muito no desafio dessa pesquisa, e do quanto vocês devem ter entrado em contato com feridas que são sociais, e problemas incrustados e cristalizados no comportamento que foi naturalizado por muito tempo. Como que a gente começa a desmanchar esse nó? Como criar crianças anticapacitistas?
Karla
Vai daí Mari.
Mariana
Tá bom, vou começar puxando o fio e você segue então.
Olha, eu penso que nesse diálogo que nós tecemos, a Karla e eu, e que não tecemos só entre nós, tem contribuições de muitas outras pessoas com quem a gente está sempre dialogando. E eu queria destacar também, principalmente o diálogo da Karla com a filha dela, a Helena, que não é uma criança com deficiência, é uma criança sem deficiência, e o meu com a minha filha Alice, que é uma criança com deficiência. Acho que ambas nos constroem também, né, nos informam sobre esses desafios de criar crianças anticapacitistas, que é um desafio que se coloca para quem tem e pra quem não tem deficiência.
Não é o fato de ter uma deficiência que nos blindaria, de sermos ou de reproduzirmos o preconceito, né, o capacitismo. E eu acho que criar crianças anticapacitistas passa pelo desafio da gente poder anunciar um outro mundo né. O que é criar gente se não for criar outro mundo, né. Criar um mundo, recriar as relações que a gente vive, recriar a maneira como a gente interpreta as nossas relações, as estruturas que estão ao nosso redor.
Mariana
E passa principalmente por a gente fazer um movimento de identificar as barreiras que se colocam para as pessoas com deficiência e que contribuem para que elas sejam marginalizadas, excluídas, segregadas da sociedade. Em geral, a gente aprende muito rapidamente, desde que é muito pequenininho, que quem tem uma deficiência vive uma espécie de tragédia pessoal, né, como se aquela experiência fosse uma tragédia mesmo, algo ruim, difícil que aquela pessoa experimentasse. E que a gente precisa, portanto, ter empatia, né, ter solidariedade em relação a essas pessoas e eventualmente, ter pena e ajudá-la de alguma maneira, porque, coitadas! Mas o fato é que esse sentimento de solidariedade e empatia não são suficientes para a gente criar crianças anticapacitistas. Não é que eles não sejam necessários, eles são necessários para as nossas relações de uma maneira geral, mas não são suficientes porque não nos ajudam a perceber que o problema nunca esteve, não está, e jamais estará na condição da deficiência em si, na pessoa e no seu impedimento, na sua, no seu jeito de enxergar ou não enxergar, de ouvir ou não ouvir, de andar ou não andar, né, na sua maneira de ser, de estar no mundo. O problema está no mundo que a gente concebe, cheio de barreiras. Um mundo que a gente concebe para um determinado padrão de corpo, de comportamento, de inteligência. Um mundo muito estreito, que deixa a margem, que deixa segregado de fora, as pessoas que divergem, que desafiam, que desviam desse padrão que a gente considera ideal.
Então, é isso que produz a experiência da deficiência. Não há nenhum problema e não é melhor nem pior, a gente viver no mundo, por exemplo, não usando o sentido da visão. Mas essa experiência se tornará pior se a gente viver no mundo que não oferece nenhuma outra possibilidade de a gente se relacionar com ele, com as pessoas que não passe pelo sentido da visão.
Eu entendo que esse é o pontapé para a gente ajudar a criar crianças anticapacitistas, tirar o foco daquilo que no primeiro momento é o que convoca a curiosidade, por que que ele é assim? Por que que ela anda assim? Por que que ela se comporta dessa maneira?
Que são questões, num primeiro momento, genuínas, de curiosidade, de estranhamento, não estou habituada a ver esse tipo de corpo, esse tipo de comportamento, mas pensar, e como é que ela participa do mundo? O que ela precisa para se relacionar com a gente, para transitar bem, para viver bem.
Esse deslocamento é o primeiro passo para criar crianças anticapacitistas, e um mundo anticapacitista. Acho que a Karla pode me complementar aí nessa, nessa reflexão.
Flávia
Porque, Karla, essa pergunta é, é muito comum né. Por que ele é assim? O que que ele tem? E é uma pergunta que muitas vezes a gente testemunha, mães e adultos, inibindo que a criança faça, é, por que interpretam que é uma pergunta ofensiva, quando na verdade é uma curiosidade infantil, que, precisa ser respeitada e merece ser respondida, né?
Karla
Sim, com certeza Flávia.
Eu estava aqui ouvindo a Mari falar sobre essa possibilidade, essas perguntas, esse estranhamento das crianças e eu acho que na verdade, a gente vai educar crianças anticapacitistas a partir da convocação das próprias crianças né.
Quando as crianças fazem esse tipo de pergunta, elas nos convocam para dar uma outra resposta que não seja aquelas usuais, é, extremamente discriminatórias ou que ainda tornam a deficiência um tabu. Não, olha, não fale, não pergunte. Acho que a gente precisa, e é o que a gente traz um pouco no livro, trazer a partir da convivência das crianças e das perguntas, que a gente chama de perguntas ingênuas, transformar em perguntas epistemológicas, né, aquilo que de fato a gente precisa responder. Então, quando uma pergunta, uma criança perguntar por que o fulano anda assim? Ou por que ele usa cadeira? É a gente transformar essa resposta, numa resposta mais assertiva, de fato, de capacitista. Então, como será que o seu colega vem pra escola? Será que o caminho dele tem barreiras, não tem? Como é a nossa escola? A nossa escola está plenamente acessível para que essa pessoa possa estar aqui como os demais?
É, eu tenho pensado muito nessa questão da convivência. Quando a gente escreveu o livro, a minha filha era muito, muito pequena, ela tinha um ano e meio, por aí, mas agora ela está com quase cinco. E eu tenho visto que a partir da convivência, vem surgindo perguntas e convocações muito interessantes. Então, quando eu digo para minha filha, há vem jantar alguém aqui em casa hoje, ela fala, “Mãe, a pessoa usa cadeira também? Não! Há, poxa, por que não?”. Porque o mais usual é que a pessoa use cadeira. Então, filha tem pessoas que usam cadeira, tem pessoas que não usam cadeira de rodas, né? Então, acho que as crianças, a partir da convivência, vão transformando a deficiência naquilo que a gente chama de trivial, de ordinário, de cotidiano e não do extraordinário, né.
Flávia
É mais uma possibilidade de existir no mundo. Mas se a criança não tem acesso a essa possibilidade, não tem convívio com ninguém que tenha essa experiência, ela vai estranhar, né Val?
Val
É interessante porque, eu tenho um filho, hoje ele é rapaz, mas ele cresceu dentro do Instituto Paradigma. Então, ele sempre teve inserido nesse meio. E eu fico, em todas as feiras que nós tínhamos, cada evento, ele estava sempre acompanhando, então ele, ele não, nunca fez essas perguntas, né, que a gente comentou agora há pouco. Para ele foi tudo muito natural, como para sua filha Karla. E ele também desde pequenininho, a preocupação dele era justamente isso. Mas se a pessoa vier aqui, não vai passar na porta a cadeira mamãe. Mas mamãe, a altura da mesa! Então ele tinha esse olhar de cuidado, muito bacana.
Flávia
De respeito né?
Val
De respeito, exatamente!
E Mariana, qual é o público-alvo do livro? Professores, pais, as crianças?
Mariana
O público do livro é gente! (Risos)
Gente, no sentido mais radical da palavra, né. Gente que, como vocês abriram aqui, “Pessoas incluindo pessoas”. É gente que se ocupa de gente. Gente que quer se humanizar, né? Porque eu acho que um dos principais desafios que a gente tem nesse contexto de pensar o capacitismo, é justamente a gente se distanciar da objetificação das pessoas com deficiência.
E nesse tema é muito comum um monte de protocolos e manuais. Como fazer quando tem, quando é uma pessoa cega? Como fazer quando é uma pessoa surda? Como se as pessoas fossem reduzidas a uma determinada característica e elas passam a ser só aquilo.
Mariana
Elas não têm contextos, não têm outros outros elementos que as compõem, que as atravessam. Elas não podem se modificar ao longo do tempo. Elas são fixadas naquela identidade, e aí você cria um protocolo para lidar com aquilo, e isso é uma maneira de objetificar. Então, quando voce convoca a partir das perguntas, como a Karla muito bem trouxe, né, a refletir sobre a condição da deficiência de maneira socialmente situada, historicamente situada, você está convocando a humanidade das pessoas. Olha, a gente está falando de pessoas, então não vai haver aqui um protocolo, né, porque não é possível você reduzir ninguém a um determinado passo a passo. E a gente está falando no fim do dia, de poder conviver. E a partir dessa convivência, a gente se interrogar, e interrogar o mundo que a gente vive. Então, assumir responsabilidade pelo mundo que a gente vive e pelas nossas relações.
Então, nesse sentido, é realmente para qualquer pessoa que queira se humanizar no sentido de expandir o seu repertório de mundo, expandir o seu repertório sobre a humanidade e poder pensar as relações humanas.
Radicalmente esse lugar de interesse pelas relações e pelo humano também é a escola né, ou pelo menos deveria ser. Espero que seja a escola!
Flávia
Exatamente!
Mariana
E junto com ela toda a sua comunidade, os professores, o porteiro, a cantineira, o coordenador pedagógico, o diretor, a diretora, os alunos, as famílias. Então, que bom! E a gente espera muito que esse livro possa dialogar com as práticas pedagógicas, com as questões que se colocam na escola, no cotidiano. Porque ali, sem me estender muito, mas acho importante dizer isso, ali é muitas vezes o primeiro espaço onde essas crianças que nasceram com uma deficiência ou que adquiriram ainda na primeira infância a deficiência, a escola é o primeiro lugar onde elas podem encontrar alguma outra narrativa sobre si que não passe pelo circuito médico, né. Porque geralmente…
Flávia
Sim.
Mariana
As crianças são invadidas por essa, têm que fazer tantas terapias, têm que fazer tantas consultas. O saber médico está muito presente nesse contexto inicial de vida, e a escola talvez seja o primeiro momento em que ela deixa de ser paciente e passa a ser uma pessoa, um estudante em relação com outras.
Então isso pode romper com alguns estigmas. Tem esse potencial de romper alguns estigmas ali na escola e disparar perguntas como a gente falou. E quem sabe um livro possa ser essa boa companhia para quem chega na escola, para quem está nela e para quem quer sustentar esse compromisso de fazer a escola ser boa para todo mundo.
Flávia
Sem dúvida esse livro abre esse diálogo, provoca essa reflexão e vai mais além. E como a Karla tava trazendo, a gente, pensar em convivência, pensar em um modelo de sociedade mais democrático, e fazer isso a partir das demandas que as crianças próprias nos trazem. Então, eu acho que na minha compreensão, começa também, com uma desconstrução do capacitismo, de nós adultos. Porque para conseguir devolver para a criança esse, essa resposta, é, mais assertiva e mais construtiva, eu preciso buscar um repertório renovado, e não reproduzir aquela cena da mãe ou do adulto, do pai, dizendo para a criança, não, ele não anda porque ele está dodói. Ou não, não, não olha, não olha, vem, em casa, a gente conversa, depois eu te explico.
Então, naturalizar e dar essa resposta é de que, as pessoas são diferentes e esse é o jeito dele se locomover ou esse é o jeito dele se comunicar, presume um, um letramento mínimo anterior.
Esse é um desafio também, né, quando a gente pensa num público tão diverso quanto o da escola e da comunidade, é envolvida em todo esse processo da educação.
Karla
Eu fico pensando, Flávia, que, eu tenho pensado cada vez mais sobre, sobre isso, em relação ao livro, né, eu fico pensando quem educa quem? Né… (Risos)
Flávia
Sim.
Karla
Por quê, as crianças nos convocam, nos fazem perguntas e reflexões que nos obrigam a repensar aquilo que a gente pensa historicamente sobre a deficiência, né.
Eu acho que as crianças hoje estão tendo oportunidades que nós, enquanto crianças, não tivemos.
Flávia
Nunca!
Karla
De conviver com outras crianças, com… de outras maneiras, com outros modos de ser, estar em sala de aula, na escola e no mundo, que nós aqui, enquanto adultos né, não tivemos essa oportunidade.
Flávia
E quanto perdemos por isso…
Karla
E quanto perdemos por isso.
Arthur
Muito Karla! Perdemos muito.
Eu mesmo cresci, meu vizinho, era trissomia do cromossomo 21, síndrome de Down, e eu nunca brinquei com ele. Porque, não era permitido esse contato, e eu perdi muito com isso. E hoje eu estou nesse lugar né, do audiovisual e da educação.
Arthur
É, na educação infantil já vi muitas crianças, por exemplo, na relação com as crianças dentro do espectro, e dizer, olha, você tenha carinho, cuida dele porque ele é dentista, e ele não é autista, ele é dentista.
E muitas me falaram assim, olha, você quando vão descrever o amigo, descreve o amigo como se ele fosse estrangeiro. E ele fala, eu acho que ele é italiano. Eu acho que ele fala uma outra língua. E estão descrevendo ele desse lugar da infância, da fabulação, e estão sempre junto, estão sempre no diálogo, estão sempre na discussão, nunca num diálogo, sempre num diálogo onde todos ali estão produzindo seus rastros, estão produzindo as suas, estão elaborando as suas, as suas formas de estar no mundo né, todos juntos.
É, e esse diálogo que reverbera muito. Quando isso acontece né, dentro de uma sala de atividades na educação infantil, onde as crianças estão dialogando com seus corpos, estão conversando, eu vejo que isso reverbera muito no corpo do professor também. Isso leva pra ele.
É mais ou menos está a ideia, do livro também, eu vejo que vai ampliando, tanto para a sala de atividades, para as salas de aula, mas para a sala dos professores e até vai chegar aos currículos anticapacitistas, as avaliações anticapacitistas.
Como é que vocês se depararam com isso, assim, com a forma como ele vai ganhando camadas, o livro vai ganhando essas camadas de discussão também para outras esferas que transformam a escola como um todo em toda essa rede, é, em uma rede anticapacitista?
Mariana
Olha, eu acho que isso que você falou, Arthur, muito poderoso, que eu tenho pensado muito, cada vez mais, que o antídoto para essa pedagogia dos diagnósticos, que é a que tenta enquadrar cada estudante num determinado CID, e para cada CID tem um protocolo de ação, e para cada protocolo tem uma sala específica, um lugar específico que é apartado do restante, mesmo que seja dentro da própria escola. O antídoto para isso é a escola democrática. Não há como a gente pensar a educação inclusiva sem uma educação que preza, que valoriza, que assume a responsabilidade de garantir a participação e o protagonismo dos seus estudantes, que assume a responsabilidade da prática democrática e, portanto, o livro, ele se propõe a ser um disparador desse diálogo. É na sala dos professores, é com a cantineira que eventualmente está ali preparando uma alimentação específica para um estudante que tem uma alergia, para o estudante que se alimenta via gastrostomia.
Mariana
Ou para o porteiro que recebe um estudante que fica inseguro de entrar na escola, e não quer entrar, ou que chega de um jeito diferente. E aí ele não está entendendo muito bem o que é. É pro profissional do atendimento educacional especializado, que precisa dialogar com o professor da sala de aula comum, né. É para a família, que eventualmente está se perguntando, como é que é que essa convivência dentro da sala? Será que atrasa o meu estudante que não tem deficiência? Será que impacta? Como é que isso acontece? Então, é um disparador de diálogo.
E obviamente que esse livro ele não dá conta, e nem se pretende a isso, né, de cobrir todas as respostas. A ideia é vamos iniciar um diálogo, trazer alguns conceitos, propor questões, e a escola segue o seu projeto, traz isso para o seu projeto pedagógico, traz isso para o seu projeto político pedagógico.
Isso tem que estar previsto lá. Vamos discutir isso em assembleias. Vamos discutir isso no grêmio estudantil, no conselho, no conselho de classe, no conselho com a participação das famílias. Quer dizer, esse diálogo com a comunidade não, mais uma vez, não tomando a deficiência como objeto a ser debatido, mas pensando a escola enquanto o local, o local de produção daquilo que é comum, enquanto o local de encontro.
Como é que essa escola? Quais são as bases que essa escola vai assumir pra garantir que a sua comunidade ali seja bem recebida, possa se desenvolver, possa se relacionar, e que essa convivência produza de fato, encontros. Produz a expansão de repertório, produz aprendizado, é, enfim, pra todo mundo. Então, acho que o livro de fato tem essa ideia de, de fazer um efeito de ondas, vamos dizer assim, né?
E a gente tem recebido muitas, muitos retornos, desde professores que falam, imprimi, coloquei na sala de professores.
Flávia
Ai que legal.
Mariana
Na escola da minha filha eu já encontrei esse livreto, nem fui eu que pedi. Parece que, a escola da sua filha, não foi eu que pedi, mas eu encontrei na recepção, ali, onde as famílias ficam esperando. É, teve professor que imprimiu pra trabalhar com estudantes do ensino médio, trabalhar com os próprios estudantes.
Mariana
Tem na sala de recursos também. A gente recebeu uma vez, logo que lançou uma mensagem de um juiz, Karla, você lembra disso que ele escreveu pra gente dizendo, o juiz dizendo, li pensando aqui a minha prática também no judiciário, então, enfim. Que bom que a gente pode com isso disparar conversas, né, e que essas conversas possam reverberar, gerar mais perguntas. Mas também, quanto mais a gente puder falar a respeito, menos tabu a gente vai ter para lidar com esse tema.
Flávia
Você tocou num ponto muito importante que é, acho que é, muito do momento que a gente está vivendo, que essa necessidade, essa obsessão pelo diagnostico. Uma necessidade de encaixar qualquer comportamento que num primeiro momento pareça estranho ou diferente, em algum CID, para que com isso apareça um protocolo, apareça um recurso de apoio, quem sabe um medicamento.
Arthur
Medicalização! Isso mesmo.
Flávia
Como que vocês veem isso? É, é um caminho sem volta? A gente consegue dar um passo atrás nesse processo de desconstrução do capacitismo. Eu pergunto por que, a minha sensação é que às vezes é mais importante nessa realidade dar nome para o que a criança ou jovem tem, do que olhar pra esse estudante como alguém que está ali para aprender, como é pra você?
Karla
Sim! Então, além de tudo, eu trabalho numa escola, sou psicóloga numa escola, e vejo que tem algumas coisas acontecendo né. Acho que tem um movimento de banalização, é, dos diagnósticos, tem um movimento de medicalização da vida, que eu acho que é muito significativo.
Karla
A gente fazer essa crítica não significa que a gente está invalidando o saber biomédico, que agora a gente pode…
Flávia
Com certeza!
Karla
Abrir mão do saber médico ou de todas as terapias. Não é sobre isso, mas é a gente entender que olhar para alguém apenas sobre o viés biomédico, ou das terapias, ou do Cid, não dá conta da existência dessa pessoa, não dá conta da experiência que essa pessoa tem da sua deficiência.
Então a gente precisa ir além! Se eu digo para você, “olha, Flávia, eu sou a Karla, é CID tau, tau, tau. O que que isso diz sobre mim? Diz uma característica minha! Mas isso não dá conta de, de te dizer sobre quem sou eu. Como eu aprendo, como eu não aprendo, quais são as dificuldades que eu tenho, as potencialidades que eu tenho, as habilidades que eu tenho.
Então a gente precisa olhar para além dessa questão de um Cid, de um diagnóstico. E a escola, eu acho que é esse, esse terreno fértil para a gente conhecer de fato as pessoas, né. Quando a gente, eu sempre lembro que Mari faz um convite no início dos semestres, né, Mari? Professores, conheçam seus estudantes. Permitam se conhecer seus estudantes, aqueles com deficiência igual a gente faz com aqueles que não tem deficiência, né?
Porque quando eu digo assim, olha, Pedro está matriculado na sua sala. Ok, mas quem é Pedro? Eu vou ter que conhecer o Pedro! E aí tanto faz se ele tem “TEA”, se ele tem síndrome de Down, se ele não tem desses, não tem diagnóstico nenhum. Eu vou ter que conhecer o Pedro! Então, acho que a gente precisa tomar cuidado com essa essencialização da deficiência a partir do saber biomédico, e pensar que existe uma pessoa, existe um estudante.
A gente precisa também, acho que parar de achar que os estudantes com deficiência estarem na escola é bom só para os estudantes com deficiência. Isso não é verdade, né?
Karla
Eu acho que trazer a deficiência para a escola é bom para todo mundo. Faz todo mundo repensar sobre gestão democrática. Lembrando que pensar numa democracia, seja ela na escola, na sociedade, enfim, é não deixar ninguém para trás. Isso é bom pra todo mundo, né?
Então, eu tenho um pouco de receio em relação a essa, essa chuva de diagnósticos, é, em função dessa banalização que a gente faz da vida, dos comportamentos, não descartando completamente esse saber. Porque eu sei que para muita gente, por exemplo, muitos adultos que agora tem o diagnóstico de TEA, é um grande alívio poder nomear aquilo que sempre sentiram, como sempre se sentiram, poder se conhecerem melhor, saber o que fazer. Então eu acho que é um pouco isso, a gente ter um pouco mais de crítica e de paciência, de calma para olhar para cada caso, digamos assim.
Mariana
Se eu puder aqui, fazer um complemento, que tem dois elementos que contribuem aí para essa profusão, essa obsessão pelos diagnósticos, melhor dizendo, na escola. Pelo menos 2 elementos. O primeiro, eu acho que tem a ver com justamente essa herança autoritária da escola, né, de autoritarismo dentro da escola. E por isso que eu disse que a educação democrática é um antídoto para essa produção, para essa obsessão pelos laudos na escola. Porque na educação democrática o estudante é, ele, ele é o autor do seu enunciado. Ele diz de si, ele diz da sua singularidade. Ele vai se apresentar, ele vai dizer as suas demandas e ele vai encontrar acolhimento e segurança para poder fazer isso.
Numa escola autoritária, você é tutelar. Seja. E quando eu digo autoritária, tem muitas maneiras dessa autoridade, desse autoritarismo, melhor dizendo, se manifestar. Então, eu acredito que, que a educação democrática ela rompe com isso, porque ela dá oportunidade a todas as pessoas de dizerem de si, da sua maneira, no seu tempo, e poderem com isso nos ajudar a compreender as relações.
E o outro aspecto, essa falência das políticas públicas, né. Esse, esse… você tem um diagnóstico hoje em dia, é, muitas vezes é sinônimo de poder requerer algum tipo de cuidado, né? Olha aqui, eu preciso disso, eu tenho aqui, aqui meu diagnóstico. Por quê? Porque você não está conseguindo acessar isso como política pública, não está produzindo a intersetorialidade da maneira como deveria, né.
Mariana
Tem um sucateamento como projeto instituído tanto da escola, quanto do SUS, quanto da assistência social. E isso leva as pessoas a um salve-se quem puder! Então tá aqui meu diagnóstico e eu me garanto, percebe?
Flávia
O diagnóstico é quase sinônimo de direito, né?
Mariana
É isso!
Por isso que lutar por uma educação de capacitista, é lutar pela educação pública, é lutar pelo SUS, é lutar pelo SUAS, é lutar por políticas de intersetorialidade que reconheçam os sujeitos na sua singularidade e que possam produzir, cuidar para esses sujeitos de maneira intersetorial.
Val
Mariana e Karla, vocês são mães, mulheres com deficiência. E como essa trajetória pessoal influenciou na escrita do livro?
Mariana
Totalmente, né Karla?
Karla
Há, quando a gente, é, quando Mariana me fez esse convite, é, eu estava com uma bebê. E eu comecei a notar, o quanto essa bebê me convocava pra, pra repensar mesmo a minha, a minha própria condição na deficiência em casa, né.
Então a gente tem lá um, tem um, tem uma ilustração lá no livro, né, é um pequeno causo, digamos assim, uma pequena situação de cotidiano entre eu e Helena, que ela começou a notar que eu precisava de suporte, para levantar da cama, do sofá, e ela começou a me oferecer esse suporte, sendo um bebê de um ano e meio, né?
Karla
Ou então, ela sabia que para eu sentar no sofá e dar de mamar eu precisava colocar a perna pra cima com o pouco. Então ela começou a empurrar o pufe assim, “Mãe, senta no sofá que eu vou, eu vou te ajudar, que é a hora do mamá”. Então essa, essa, eu acho que essa experiência da maternidade me trouxe muito para pratica do cotidiano, aquilo que a gente estuda como interdependência, né como que eu, uma pessoa que depende de cuidados para a manutenção da minha vida, posso também exercer a função de cuidado. E uma função de cuidar, uma atividade de cuidado mútuo. Assim, ela, mesmo ela sendo muito pequena, ela também fazia esses pequenos, gestos de cuidado. Então, a maternidade me influenciou, e me influenciou demais para a escrita desse livro nesse sentido, de pensar na interdependência como algo que está ali, na convivência, enquanto é importante todos, todas as pessoas poderem conviver com a diversidade humana, com a condição da deficiência, para que possam repensar as suas próprias crenças sobre a deficiência, sabe? Então, esse livro me influencia completamente.
Eu também estava muito, eu estou sempre muito imbuída, tô sempre muito cooptada, digamos assim, pela experiência da Mariana com a Alice, sabe?
Eu lembro muito da Alice, e das coisas que Alice diz, das coisas que Alice faz, do que as amigas da Alice fazem com ela, do que Mariana proporciona, do que a escola da Alice proporciona. Então, estou sempre muito também, é cooptada por essa experiência, muito interessante, e anticapacitista da história da Mariana.
Eu acho que foi um encontro muito interessante das nossas experiências para a construção do livro, para essa ideia de que o sujeito ele precisa ser protagonista da sua, da sua experiência, seja na escola, seja na vida, traz essa perspectiva da ética do cuidado como uma responsabilidade coletiva que não é só daquela da professora, que está no AE, não é só do profissional de apoio, que é algo coletivo. Acho que a Mari trouxe um pouco isso também, pensar essa escola anticapacitista e pensar em melhores condições de trabalho para os professores, por exemplo, para todos os profissionais. Então, essa ideia coletiva me… eu estava muito impregnada dessa ideia coletiva da ética do cuidado, e isso muito despertado também por essa experiência com bebê na época, né, acho que é isso.
Flávia
É eu acho que a gente tem ouvido falar muito sobre o lugar de fala, né?
Flávia
E em todo lugar todo mundo tem lugar de fala. E todo lugar de fala é importante!
Mas quando uma obra, ela é resultado de autoras que ocupam esse lugar, de mulher, de mãe, de acadêmica, de pesquisadora, de agente da educação, é, é muito potente! Esse encontro de vocês é muito potente, também por isso, né, por essa experiência da maternidade e desse papel de educadora que cada uma de nós, à sua maneira, acaba assumindo.
Essa diversidade que a gente tá falando, da riqueza, da importância e do quanto nos fez falta na nossa educação, hoje somos adultos e não tivemos acesso. Ela hoje é mais presente nas escolas, mas a representatividade no corpo gestor e no corpo pedagógico ainda não é tão comum.
E ter pessoas com deficiência ocupando esse papel de professores, de agentes interlocutores faz muita falta ainda, não faz?
Mariana
Acho que sim, Flávia.
Faz falta! Faz falta esse lugar da gente poder compartilhar esse sentimento solitário. Digo isso até, mais apoiada na experiência da minha filha, do que minha própria, porque eu sou uma pessoa, pegando aí um termo herdado das intelectuais negras, eu tenho muita passabilidade, né. O que significa que as pessoas dificilmente me atribuem uma deficiência num primeiro contato.
Já minha filha não passa despercebida. E muitas vezes ela se sente sozinha. Ela já me relatou isso algumas vezes. Ela foi a primeira estudante na cadeira de rodas na escola dela. A gente está no ano 2020, no século XXI, quando ela entrou nessa escola, em 2023. Então, veja, até ali ela não havia passado outra criança com deficiência. E ela fala, “Eu me sinto sozinha, me sinto solitária”. E para os professores isso também, é porque a gente está o tempo todo falando de receber o estudante, receber estudante. A gente nem considera que pode haver um professor com deficiência. Tem professor de educação física em cadeira de rodas, tem uma professora com deficiência intelectual dando aula de língua portuguesa.
São tão poucos que a gente encontra e nomeia, diz quem são. Mas é, eu penso que desde que a gente assumiu esse pacto de civilização, né, que é garantir educação para todas as pessoas, desde a Constituição de 88, e depois isso foi se reafirmando em outros marcos legais e normativos. Então, assim, nas últimas duas décadas, podemos dizer a gente está contribuindo para que mais pessoas possam ocupar esse espaço.
Mariana
E tomara que sejam muitas, a ponto da gente se perder nos nomes, e que essa experiência possa fazer parte do comum da escola, né? Puxa, tem muitos modos de ensinar também, né? Tem muitos modos de aprender e tem muitos modos de ensinar.
Flávia
E acho que isso começa a acontecer com mais frequência, na medida em que as pessoas vão se dando conta da contribuição que ter essa diversidade presente, nesse cenário dos professores, pode ser positiva, produtiva e contribuir para a educação das crianças sem deficiência. A gente não está falando, de novo, de um benefício voltado para alunos com deficiência, mas para todo aquele coletivo escolar que cresce aprendendo a trabalhar de um jeito mais cooperativo, mais completo e mais realista, no que se refere à convivência, que é o ponto de partida da nossa conversa, né. Que agora a pouco, que a Karla já começou disparando sobre essa complexidade da convivência escolar e em sociedade.
Mariana
E mais real, né Flávia!
Flávia
É! É mais realista.
Mariana
É, porque esse mundo sem deficiência, sem envelhecer, sem experimentar qualquer tipo de limitação do corpo, ele simplesmente não corresponde à realidade. E não tem correspondência com o mundo que a gente vive.
Flávia
Acho que é.
Karla
A gente vê as pessoas com deficiência em outros espaços e ocupando outras instâncias de poder, digamos assim, na gestão e com participação que não sejam só aquele sujeito que recebe um tipo de serviço, mas aquele que decide e que faz o serviço acontecer também. Isso tem a ver com essa possibilidade das crianças hoje estarem na escola.
Eu trabalho numa instituição de ensino médio técnico até a pós-graduação. E eu vejo a dificuldade que os profissionais têm de perceber que as pessoas com deficiência elas crescem, elas se tornam adultas, elas vão continuar os estudos. E elas serão profissionais, e elas estarão em postos de trabalho, digamos assim, em lugares de decisão, de poder.
Então, eu acho que é superimportante a gente pensar que essas crianças que hoje estão na escola, no ensino básico, elas amanhã, depois, elas estarão no ensino técnico, elas estarão nas universidades, elas estarão na pós-graduação, serão profissionais, serão nossos colegas de trabalho. Eu sou colega de trabalho de um monte de gente que não estudou com pessoas com deficiência.
Os meus colegas de trabalho dizem, “nossa, mas eu nunca estudei com uma pessoa com deficiência”. Então, a ideia é que propiciar uma escola democrática e anticapacitista, é que num futuro não tão longe assim, essas pessoas estejam como colegas de trabalho, elas estejam na gestão da escola, que elas sejam as professoras, né, essa é a ideia. Porque, como Mari colocou, isso é a realidade, a gente existe!
Flávia
Existe! Mas ainda pensando…
Val
Desculpa Flávia!
E falando de futuro, Mariana, no seu olhar, hoje, qual é o maior desafio na educação anticapacitista no Brasil?
Mariana
Nossa! Pergunta valendo 1 milhão de reais!
(Gritos, risos)
Mariana
Eu acho que o principal desafio é, é romper com o paradigma. É romper com o paradigma médico de compreensão da deficiência. Eu poderia dizer facilmente que o principal problema é a falta de investimento de maneira contínua, sistemática, né?
Mas isso tem a ver com uma mentalidade que compreende as pessoas com deficiência como algo inferior, como algo sem valor, como algo que não agrega a sociedade. Então, para que que vamos investir nessas pessoas? Então, eu acho que é romper com essa mentalidade. Nosso principal desafio, e não só da educação, mas da sociedade como um todo.
Karla
Eu acho que é a presunção da incapacidade, né Mari?
A gente precisa romper com essa ideia da presunção da incapacidade relacionada à deficiência. Se a gente não transformar, se a gente não virar a chave sobre o significado da deficiência, a gente não vai avançar na luta anticapacitista.
Então, a gente precisa entender a deficiência como parte da condição humana, nem mais nem menos. É, como algo que todas as pessoas podem experimentar se chegarem na velhice, por exemplo. E não como a tragédia, o castigo, ai, a falta de sorte, o infortúnio, de algumas pessoas. A menos valia. Não!
Se a gente não transformar essa perspectiva da deficiência, se a gente não sair da presunção, da incapacidade, a gente não vai avançar na luta anticapacitista. Então, acho que a gente precisa de fato, afirmar a deficiência como parte da condição humana.
Flávia
Karla, e pra isso, a escola é ambiente fértil, né? Porque na escola a gente tem toda a possibilidade de romper com essa ideia da incapacidade, porque em poucos lugares a gente consegue ser tão capaz quanto numa escola que investe no nosso potencial e nos dá recursos para desenvolver as nossas habilidades, e é isso, né?
Karla
Totalmente!
Flávia
Eu acho que, em última análise, a gente está falando então, de que criar crianças anticapacitistas é desenvolver pessoas preparadas para o mundo, pro mundo real, porque inclusão é um caminho sem volta, né? E cada vez mais a diversidade vai estar presente no cotidiano, não só das escolas, mas das empresas, de toda a sociedade.
Então, pra quem não convive com pessoas com deficiência e não dá oportunidade dos filhos se desenvolverem a partir dessa convivência com a diversidade vai, vai cada vez mais sair perdendo.
Mariana
Permitindo…
Karla
Sim!
Flávia
Faz sentido?
Karla
Pra mim faz sentido. E pra mim, você falou “a inclusão é um caminho sem volta”. Pra mim faz sentido pensar que no futuro a gente não vai precisar falar em inclusão. Eu entendo que nesse recorte, nesse contexto que a gente está, a gente ainda precisa falar sobre isso, né?
Mas acho que trabalhar numa perspectiva inclusiva nesse momento, precisa levar a gente pra uma ideia do anticapacitismo, em que a gente não precisa incluir porque não há ninguém excluído, né? O anticapacitismo é você pensar nas origens, é você pensar no seu planejamento, considerando a presença da deficiência. E não a gente tendo que consertar, adaptar, dar jeitinho quando a deficiência aparece.
Então, é, eu acredito muito nesse futuro anticapacitista, num futuro que a gente está construindo aqui, agora, de maneira coletiva, não segregada, não com responsabilidade apenas de alguns.
Karla
Não achar que a deficiência é do professor X, do profissional X, da família que tem alguém com deficiência. Esse é um assunto que precisa circular, porque justamente a deficiência pode fazer parte do cotidiano de todos nós.
Então, eu acredito muito na estrutura anticapacitista.
Flávia
Nós também!
Mariana
Todas nós, né.
E eu acho que junto com isso, talvez a gente também está sempre checando e repactuando o que a gente está chamando de inclusão. Porque tem uma ideia que é mais senso comum, que se refere inclusão como sendo uma ação benevolente de um grupo que seria considerado naturalmente pré-estabelecido, né? E a quem cabe decidir quem está dentro e quem está fora. Então somos nós, e aí você é o de inclusão, né? E a gente não está falando disso no nosso mundo, e inclusão é um processo de reparação histórica. Esse mundo também é nosso. Nós não estamos pedindo para participar dele, é nosso direito estar nele, usufruir dele e trazer as nossas potencialidades para ele. Então, eu acho que a gente está falando de inclusão numa perspectiva de produzir, como a gente chama nos estudos da deficiência, produzir “aleijamentos”.
E a palavra é provocativa mesmo, porque pega um termo que é, de estigma, né, assim, estigmatizante, aleijado, né? Para, para falar de produzir brechas, produzir fissuras, nesse lugar de opressão que foi historicamente construído para as pessoas com deficiência e dizer que a gente pode transformar isso num lugar melhor pra todo mundo, para todos nós, inclusive para as pessoas com deficiência.
Flávia
Arthur, você quer falar? A gente tem que encerrar.
Arthur
Eu ia só soltar uns fogos aqui, para comemorar!
(Risos)
Val
Karla e Mariana, onde podemos encontrar o livro?
Karla
O livro ele está disponível na internet. Se você digitar no Google “Como educar crianças anticapacitistas”, vai aparecer o link de como você baixar esse material. Ele está acessível, ele tem recursos de acessibilidade. Ele está disponível de modo gratuito na internet. Todas as pessoas podem acessar, difundir, enfim, ele é para ser compartilhado mesmo.
Mariana
É só fazer um salve aqui, que ele está disponível gratuitamente, graças à parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, na pessoa da professora Geisa Bock, a quem a gente manda um imenso abraço por esse convite e pela possibilidade de distribuir esse material gratuitamente.
Arthur
Maravilha!
Só um parêntese, também está disponível na Biblioteca Virtual do Instituto Paradigma. É uma das publicações mais baixadas da nossa biblioteca.
Mariana
Que maravilha!
Arthur
É! E muito obrigado também por esse, por essa publicação, né, que pode dar borda à nossa biblioteca. E essa borda que a gente quer, e essa borda que dá asas!
Arthur
E vai para outros estados, e vai para o Tocantins, vai pro Maranhão, vai pra, pra muitos lugares, é, e dá asas para a nossa biblioteca e dá outras camadas pra ela também. Muito obrigado.
Flávia
Karla, Mariana, muito obrigada pelo trabalho de vocês, por esse livro, por toda essa história de luta e contem com a gente! Estamos todos trabalhando com o mesmo objetivo que é construir o mundo a partir da educação mais justa, mais solidário, mais real, mais produtivo, mais cooperativo e mais feliz para todo mundo. Muito obrigada!
Mariana
Obrigada você, viu Flávia?
A gente também te agradece pelo seu trabalho aí no jornalismo, aqui no podcast, agradece o Arthur, a Val, o Uirá. Muito bom a gente poder ocupar esses espaços com esse sentido de comunhão, de coletivo que a gente quer construir, então, muito obrigado.
Karla
Obrigada gente por essa oportunidade, foi um prazer estar aqui.
Obrigada Mari, por mais essa parceria.
Val
E beijinhos na Helena e na Alice!
Mariana
Há sim.
Flávia
Ai! Eles crescem, elas crescem rápido gente, é tão rápido!
Karla
É verdade. (Risos)
Flávia
Karla, meus filhos têm 18 anos Karla.
Karla
Pois é. Eu fico impressionada quando vejo, que já são, já são quase adultos. (Risos)
Flávia
Admiro demais vocês meninas, Parabéns! Contem com a gente viu.
Mariana
A gente que adorou! Obrigada mesmo Flávia! É bom fazer conversa assim porque a gente fica à vontade com vocês, não tem que dar tanta explicação.
Flávia
Vocês mandam muito bem!
Mariana
Vocês que mandam!
Flávia
Vocês mandam muito bem!
Vinheta de passagem
Episódio 08: “Educar crianças anticapacitistas”, com Mariana Rosa e Karla Garcia.
Apresentação Flávia Cintra, Arthur Calasans e Val Paviatti.
Edição e masterização Uirá Vital.
Transcrição Celso Vital e Silva.
Site Plataformas Digitais Rafael Ferraz e Fabrícia Valeck.
Vinheta final.