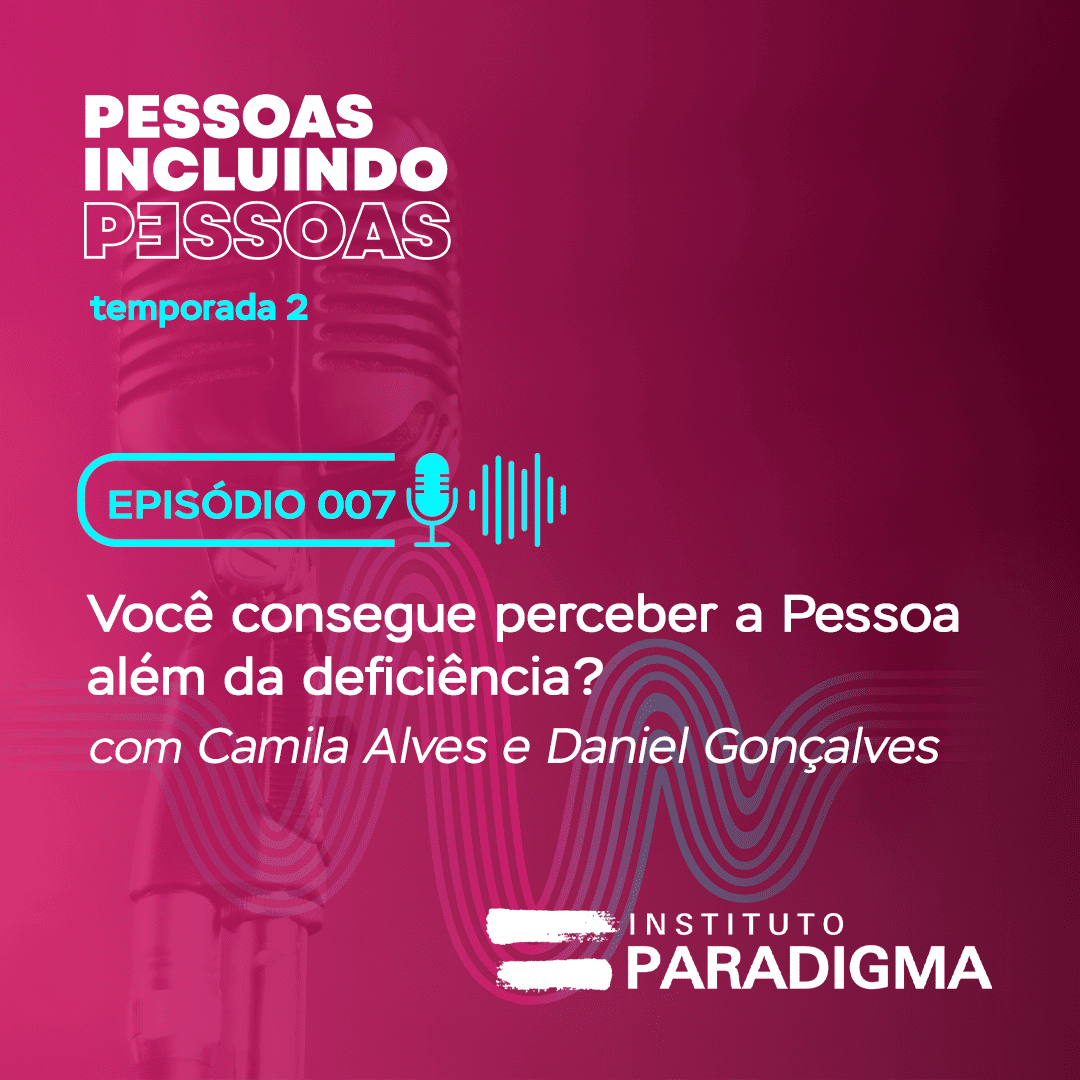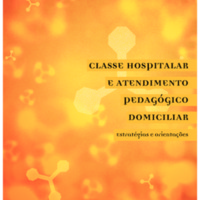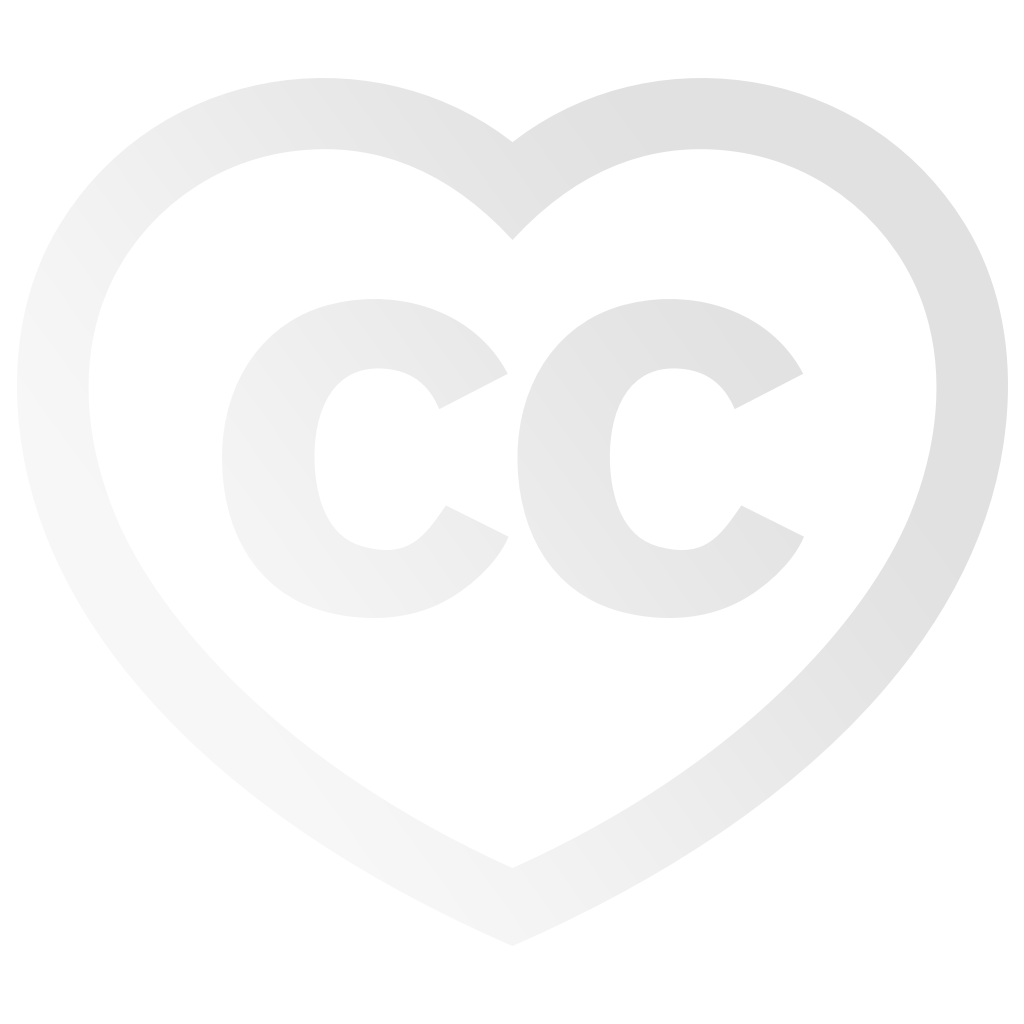Foto: acervo pessoal. Créditos: Hugo Bueno.
Por Elsa Villon
Na África do Sul, há um provérbio xhosa que diz: “Umuntu, ngumuntu, Ngabantu”, ou, em português, “uma pessoa só é uma pessoa por causa das outras pessoas”. Essa é a visão de mundo da bailarina, atriz e performer Mona Rikumbi. Nascida Érica Andrea Martins, segunda filha de uma mãe solteira, negra e periférica, ela pertence a mais um grupo socialmente excluído: o das pessoas com deficiência.
O nome Érica veio em homenagem a uma flor, que brotava bem delicada em meio ao cimento. Aos 18 anos, é rebatizada dentro da religião de matriz africana como Mona Rikumbi, que quer dizer “filha do sol” em kimbundu, língua do povo banto, os primeiros escravizados a chegarem ao Brasil da África. Para ela, o segundo batismo só reafirma sua ancestralidade.
A religião de matriz africana foi o alvo das primeiras formas de discriminação sofridas pela artista. Até meados da década de 1970, essas celebrações eram proibidas. “Se alguém se incomodasse com algum tambor, a polícia podia entrar e barbarizar. Não era uma coisa que a gente falava com naturalidade. Na escola, muitas vezes, eu fui católica”, relembra.
Sem acesso aos centros culturais, ainda criança encontrou o que viria a ser seu ofício: o teatro e a dança, aos nove anos de idade. Foi nessa época que começou a frequentar a biblioteca e organizar com outras crianças suas próprias produções. Aos 13, já era voluntária e atendia estudantes no mesmo espaço. Aos 14, escrevia peças e apresentações.
Foi esse primeiro contato com a arte que levou Mona até o palco do Theatro Municipal de São Paulo como a primeira bailarina negra cadeirante a se apresentar no espaço, em 2017. Aos 50 anos, uma mãe solteira, negra e com deficiência ocupou um lugar nunca antes ocupado. E superou a expectativa de vida dada pelos médicos após o diagnóstico de neuromielite óptica, doença rara e degenerativa descoberta aos 30 anos de idade.
Um novo jeito de dançar
Antes mesmo de descobrir a doença, Mona teve que priorizar outro ofício: a enfermagem, que a fez deixar os palcos para trabalhar exclusivamente na saúde, aos 24 anos, quando engravidou. Tudo mudaria com o primeiro surto da doença neurológica, em 2007. Por se tratar de um caso raro, mais comuns em mulheres negras, não há muitos estudos sobre a neuromielite óptica e o diagnóstico foi tardio.
Foi na cadeira de rodas que ela retornou às artes, em 2010. “Eu nunca nem tinha ouvido falar em dança com cadeira de rodas e tudo envolvendo as questões de pessoas com deficiência, mesmo sempre muito ligada ao movimento social, de mulheres negras, das próprias tradições africanas, não tinha me deparado ainda com essa questão. Quando eu me vi com deficiência, eu entendi que era um novo formato da minha história”, conta.
Além da dança, ela também chegou a competir em campeonatos de bocha adaptada, modalidade paralímpica que engloba atletas com diversos tipos de deficiência, onde conheceu várias pessoas com diversidade funcional.
Mas a paixão dos tempos de menina prevaleceu: “O dia em que eu fechei os olhos e abri os braços foi incrível para mim. Foi uma aula que não é voltada para pessoa com deficiência, mas um formato que abarca todo mundo. Qualquer movimento ou até mesmo a falta dele se concebe como dança”.
Desde então, não parou mais: ela já se apresentou em vários teatros e centros culturais pelo Brasil, como a UNIBES, Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, de São Paulo, Teatro das Artes, Teatro Sérgio Cardoso, o Minhocão, intervenções artísticas na Av. Paulista e performances nas ruas, até chegar ao Theatro Municipal de São Paulo e fazer a história que virou o documentário que leva o seu nome, lançado em 2018.
A arte como alicerce
Para Mona, mais do que profissão, a arte é cura. Mas ela acredita que ainda há muitos obstáculos enfrentados, tanto no acesso quanto na produção de cultura. “As pessoas que pensam a arte conseguem no máximo nos entender como expectadores. Quando saiu a Lei Rouanet e a necessidade de ter um espaço acessível, que tivesse uma acessibilidade comunicacional, foram pensando na pessoa com deficiência. Mas colocá-la dentro do palco ainda é um desafio. São poucos lugares em que a cadeira entra na coxia ou que não tenha escadas”, destaca.
Há também a barreira atitudinal. Empregar artistas com deficiência ainda é um desafio, não apenas no Brasil: “A gente tem atores e atrizes que interpretam pessoas com deficiência, mas ainda não conseguem ver que a pessoa com deficiência é artista e pode ser absorvida pelo mercado. Mesmo em seriados internacionais, há poucos”.
Mas assim como entrou para a história ao se apresentar no Municipal, novamente Mona é pioneira com sua participação no longa-metragem “Selvagem”, que traz um casal de jovens negros como protagonistas na época das ocupações das escolas na capital paulista. Embora não lançado no circuito comercial, o filme está em exibição de festivais e traz a atriz interpretando uma empresária que quer tirar direitos dos trabalhadores, sem nenhuma relação com sua deficiência e quebrando estereótipos do capacitismo: “São dois minutos com fala, mas para a gente que está na arte, já é uma grande conquista”.
Para ela, o fato de ter sua história na arte antes e depois da deficiência só agregou mais valor ao trabalho. Em 2021, se inscreveu para o processo seletivo da Escola de Artes Dramáticas da USP, chegou à fase final, mas não ficou entre os 20 selecionados. Segundo ela, nunca antes alguém com deficiência havia se inscrito para alguma vaga. “Nós temos que bater naquela porta e nos inscrevermos. A escola tem 73 anos e não tem rampa, uma cadeira de rodas não passa pelas portas, não existem alunos com deficiência. Então eles nos cobram como qualquer outro artista, mas não oferecem condições. Está na hora de gritar por cotas nas universidades públicas nessas escolas referência em formação se a gente escolheu isso como profissão”, pontua.
As batalhas pela representatividade
“A gente não escolhe a luta, é a luta que escolhe a gente.” A fala de Mona vai ao encontro de sua trajetória, que a inseriu em grupos historicamente excluídos pela sociedade desde o nascimento. Morando em Americanópolis, bairro da zona sul de São Paulo, negra, mulher, de religião africana e com deficiência, pertencer a tantos grupos a fez ser militante em todas essas causas.
Segundo o último Censo, de 2010, 6,7% da população possui alguma deficiência. Já os declarados negros e pardos representam 56%, 12% a menos que no período pós-abolição, no século retrasado. Para ela, isso é resultado da proposta sanitarista que visa mitigar a população negra, por meio da violência policial e da falta de políticas sociais efetivas. Há ainda a população feminina, que representa 54%, mas que convive com diferenças de acesso às oportunidades de trabalho e são as maiores vítimas de violência doméstica, como a própria Maria da Penha. Ela defende que sua militância não é opcional, mas sim lutar para pertencer a espaços e ter acesso, até mesmo ao básico.
Outra barreira enfrentada diz respeito ao sucateamento do SUS, pois muitas unidades de atendimento à saúde da mulher não oferecem equipamentos, aparelhos e funcionários adequados para lidar com mulheres com deficiência: “Nós precisamos fazer exames preventivos e não há mesas ginecológicas ou aparelhos de mamografia adaptados a uma cadeira de rodas. Ou uma gestante surda não tem como fazer o acompanhamento pré-natal adequado sem um intérprete de libras, por exemplo”.
Na pandemia essas diferenças ficaram ainda mais latentes, com a segmentação à vacinação entre pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BCP) e os que não recebem. De acordo com Mona, essa é mais uma forma de excluir a população com deficiência. “O fato dessa demora para as vacinas chegarem é pensada. Nós sabemos que a exclusão nesse país tem gênero, raça, classe, idade e corpos não normativos. Não há interesse em salvar esses grupos”, ressalta.
Um legado para chamar de seu
Apesar de todos os obstáculos, Mona defende que seu maior legado é seu filho e a certeza de ter colocado um homem de bem no mundo: “Ser mãe solo de um filho jovem e preto é outro desafio. É o medo de você perdê-lo o tempo todo. Uma dor que só quem é mãe de filho preto tem. Você abençoa seu filho, mas muito mais pedindo ‘Meu Deus, leva, mas traz de volta’, do que qualquer outra maternidade. São coisas que só a gente sente e sabe”.
Ter reaprendido a viver após os surtos da doença também são uma conquista enorme. Para ela, voltar aos palcos é sempre motivo de alegria, mas de luta diária: “Eu ganhei a minha vida de volta, mas, para garantir a minha vida, eu preciso de luta. Eu preciso estar lá na Defensoria Pública e brigar por cotas nas escolas públicas para que eu possa, efetivamente, estar no mercado”.
Seu trabalho artístico também integra seu legado, com dois documentários, o longa-metragem, lives e performances variadas: “Mesmo que eu vá, as pessoas vão saber que uma mulher preta, arretada, chegou e meteu o pé e ocupou espaços que até então não me viam, nem como mulher, nem como negra, nem como deficiente. Eu estive lá no Theatro Municipal e eu não estava servindo café nem limpando nada, é sempre nesses espaços que a gente está, nesse formato. Eu estava ali como artista”.
Por fim, ela reforça que é preciso fugir ao assistencialismo oferecido, brigar por oportunidades, entender e ter responsabilidade sobre as diferenças socioeconômicas, mas lutar por direitos: “Acho que esse é o meu legado, ser a voz de ninguém, porque todo mundo tem direito a sua voz, eu não vou falar por ninguém. Meter o pé na porta e abrir sim, depois é sobre competência. Quem tiver competência vai passar”.